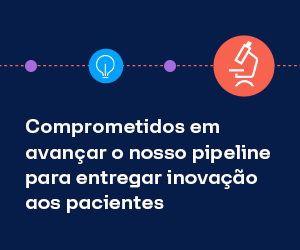O oncologista brasileiro Rodrigo Dienstmann (foto), principal investigador do Oncology Data Science (ODysSey) Group, do Vall d`Hebron, em Barcelona, é nome de referência na pesquisa translacional. Em entrevista exclusiva, o especialista aponta caminhos que estão na fronteira do conhecimento científico.
O oncologista brasileiro Rodrigo Dienstmann (foto), principal investigador do Oncology Data Science (ODysSey) Group, do Vall d`Hebron, em Barcelona, é nome de referência na pesquisa translacional. Em entrevista exclusiva, o especialista aponta caminhos que estão na fronteira do conhecimento científico.
Imunoterapia e biomarcadores, o que sabemos hoje?
Acho que a visão global é que provavelmente vamos ter um biomarcador diferente para cada tipo de tumor e em algumas doenças simplesmente não vamos precisar de biomarcador, porque o benefício já se mostrou suficientemente grande e fica difícil encontrar qual o subgrupo super respondedor. Isso acontece por exemplo em tumores de Merkel, um tumor raro de pele em que as taxas de resposta com imunoterapia são enormes, mais de 60, 70%, ou mesmo em Linfoma de Hodgkin, onde você encontra taxas de resposta elevadas porque mais da metade dos pacientes têm resposta e quase todos têm redução tumoral. É difícil encontrar um biomarcador nessa população. Mas em outros casos, biomarcadores têm muito impacto na definição do tratamento. Hoje isso está dividido em três grandes blocos. O primeiro é a carga mutacional, que é a quantidade de mutações no tumor; outro é a instabilidade de microssatélites, que é um biomarcador já aprovado, mas está representado em apenas 2 ou 3% de todos os tumores com metástases. Mas temos uma zona intermediária de carga mutacional que é uma zona cinzenta, porque nesses casos não sabemos ainda qual o cut-off e provavelmente isso vai ser diferente para cada tipo de tumor. No câncer gástrico, os tumores que têm alta carga mutacional respondem mais, mas o limite entre alta e baixa carga mutacional é diferente do que acontece em câncer de pulmão, por exemplo. Outro problema esbarra em uma questão técnica, porque os testes para quantificar a carga mutacional não são comparáveis. Quando você compara dois testes, o cut off é diferente, falta padronização. A gente vai ter que tirar da cabeça essa visão de que carga mutacional explica tudo. Existem esses extremos que mencionei, de casos que sempre vão ser positivos em qualquer painel, assim como existe esse grupo intermediário. Outro biomarcador é a expressão de moléculas de PD-L1, que em tumores de mama, câncer gástrico e em pulmão, por exemplo, aqueles com alta expressão é que têm maior benefício. Então, é um biomarcador que não dá para ignorar, mas novamente não vai ser o mesmo cut-off para todos. Outro componente é a inflamação do microambiente do tumor, como o Tumor Infiltrate Lynphocytes, essas assinaturas de infiltrado citotóxico inflamado do tumor. Não é só olhar o TILs, é mais que isso. É ver um TILs ativo, funcionando. Isso você consegue com técnicas que olham a expressão dos genes e temos estudos que realmente mostram que é uma informação complementar à carga mutacional e ao PD-L1 para encontrar pacientes respondedores à imunoterapia. Outro grupo são os casos de tumores relacionados a vírus. No câncer gástrico, por exemplo, você tem o Epstein-Barr que é super responsivo à imunoterapia, mas é PD-L1 negativo e a carga mutacional é baixa. No câncer cervical provocado por HPV também pode ser um biomarcador útil. Então, se juntarmos essa inflamação do microambiente, carga mutacional e expressão de PD-L1 é possível explicar até 80% dos casos.
E em alvos acionáveis, como evoluímos desde as primeiras drogas-alvo?
Agora temos aprovado pelo FDA mais de 100 fármacos vinculados a cerca de 30 alterações moleculares, considerando tumores sólidos e hematológicos, e continua a crescer, linearmente. Veja as fusões, os gene-fusion, que são alvos acionáveis raríssimos, cerca de 1%, juntando aqui e ali chegam a 2% se tanto, mas são descobertas que possibilitaram medicamentos cada vez mais potentes. O desafio é encontrar essa população super respondedora para ser tratada com esses fármacos mais potentes. Eu acredito que ainda vai mudar muito a visão sobre biomarcadores para deficiência de recombinação homóloga, o DNA damage repair. Acho que o grande salto para o futuro vai ser realmente encontrar que alterações de reparo do DNA em cada tumor revelam sensibilidade a quimioterapias com platina ou aos inibidores de PARP. É um caminho que se abre para o futuro, porque hoje chegamos ao limite em termos de alterações ou alvos revolucionários.
Acerca dos mecanismos de resistência, o que aprendemos com essa trajetória?
Aprendemos que existem mecanismos de resistência relacionados à heterogeneidade dos clones, à heterogeneidade tumoral. Significa que dentro do tumor original temos clones que não respondem mais ao tratamento, não são mais EGFR mutados, por exemplo. São clones que resistem ao tratamento com anti-EGFR e é uma questão de tempo até que esse clone, antes minoritário, assuma o controle dominante e explique a resistência. Tratamento alvo-molecular sempre tem resistência, mais cedo ou mais tarde. Os casos de cura são excepcionais, como ocorreu com a história do imatinibe em leucemia. Mas a heterogeneidade tumoral e os mecanismos de resistência genômicos explicam só uma parte da resistência. Outra parte ocorre simplesmente pela adaptação da célula a esse tratamento. Ela passa a usar outra via de sinalização para proliferar e o fármaco deixa de ser eficaz. Acontece do tumor se tornar mais mesenquimal ou, então, de ativar outra via, como MET. São mecanismos que acontecem como uma resposta adaptativa, pela plasticidade da célula a esse novo ecossistema.
Usando o exemplo do câncer colorretal, é um pouco desse cenário que a gente explora quando discute classificação de subtipos moleculares versus microambiente tumoral?
Sim. Podemos classificar o tumor do ponto de vista molecular, como reflexo da biologia do tumor, e agora aprendemos que o microambiente está associado às transformações que estão ocorrendo com a célula de câncer. Não dá para ignorar essa interação. O que a gente vê cada vez mais é que grande parte da biologia do tumor decorre dessa interação do câncer com o microambiente. Para entender melhor esses mecanismos precisamos entender se a resistência a um tratamento acontece porque a célula de câncer está modulando isso ou porque o microambiente se adaptou. É tudo muito inicial, mas a pesquisa agora vai por esse caminho. Se não muda a célula de câncer, o que muda é o microambiente, talvez o que eu tenha que fazer seja tratar esse microambiente alterado. Estamos partindo para isso agora, para tentar simplificar o entendimento na hora de definir qual o melhor tratamento numa situação de resistência.
Para o clínico que está diante de um paciente em progressão, você recomenda a rebiópsia?
Claro que depende muito do tipo de tumor e do tipo de resistência, mas a gente prioriza a biópsia para dar uma informação atual do status do tumor do ponto de vista genômico, do ponto de vista de microambiente. Então, a recomendação é biopsiar, mas esse não é um padrão. Você não vai biopsiar se não tem o que oferecer para o paciente depois, mas hoje existem mais estratégias, como a biópsia líquida, e você pode ter um valor adicional para decidir se vale à pena retratar ou não.
Mas a biópsia líquida também motiva dúvidas sobre quando coletar, que quantidade é recomendada, falta padronização?
O oncologista tem a tendência a incorporar tecnologia sem pensar no valor que ela agrega, até porque tem muito marketing em cima de todos esses testes comerciais. Eu sou super fã da medicina baseada em evidência e só vou recomendar um re-teste molecular se tenho um estudo que mostra a utilidade. Eu preciso ter a utilidade clínica demonstrada. No câncer de pulmão, com a resistência aos inibidores de EGFR, ALK , etc, a biópsia líquida ajuda a entender se existe uma mutação potencialmente tratável. No entanto, a biópsia da peça cirúrgica também pode indicar se um adenocarcinoma se transformou em um câncer de pequenas células. Isso pode estar na própria histologia do tumor, indicando uma doença muito refratária. Em casos assim, depois de algumas linhas de tratamento você pode até voltar para a quimioterapia inicial. Isso não se consegue detectar na biópsia líquida, só na biópsia do tumor. Em resumo, vamos ter que entender esses mecanismos, gerar algoritmos para guiar qual o melhor caminho e escolher caso a caso se faz sentido biópsia líquida ou biópsia do tumor. Não dá para ser um standard, uma recomendação geral. Há casos, como em melanoma, que não faz sentido pensar em biópsia líquida ou em rebiópsia. O problema é que mesmo os reports superestimam o valor de algumas alterações e muitas vezes o médico acaba transferindo o conhecimento de um tipo de tumor para outro, prescreve fármacos com evidência baseada em modelos pré-clínicos, com pouca utilidade real. Isso não funciona e não vai funcionar nunca, é detrimental.
Você participou da escala ESKAT proposta pela ESMO, justamente para evitar isso. Qual a ideia da escala?
Essa é uma escala feita por níveis de evidência, com quatro níveis básicos. No primeiro estão os alvos terapêuticos prontos para serem incluídos nas decisões clínicas de rotina, com base em estudos que demonstraram ganho de sobrevida clinicamente significativo em tumores específicos, como o anticorpo anti-HER2 trastuzumabe para câncer de mama com ERBB2 (HER2) amplificado, assim como os inibidores de EGFR para câncer de pulmão não pequenas células. No nível 2 está aquele biomarcador em investigação, mas com estudos que já sinalizaram que funciona e é promissor. O terceiro nível é o que chamamos de hipotético, ainda com evidências pré-clínicas, portanto muito frágeis, mas que podem embasar a decisão de inscrever um paciente em um estudo clínico, por exemplo. E no último nível da escala estão as mutações que não têm base de evidências para amparar sua utilização como alvo terapêutico e não devem ser consideradas para decisões clínicas. A ideia agora é ter registros cada vez maiores do uso de tratamentos off label para poder realmente juntar a medicina de precisão com a vida real. Acredito que isso pode ter um impacto muito grande. Usar evidências do mundo real são uma necessidade, primeiro para entender a História Natural da doença, mas principalmente para acompanhar a evolução do que está acontecendo agora. Os estudos clínicos têm data de vencimento, envelhecem, e a gente se vê utilizando dados de estudos clínicos da década passada hoje, quando os tratamentos são muito diferentes. Temos que aprender como comunidade e evidências de vida real podem nos dar muitas respostas.